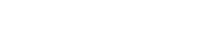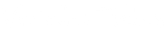Esta é uma conversa com várias datas. Na verdade são duas entrevistas, espaçadas nove anos entre si, e relativas a dois aspectos distintos da vida e da obra de Chico Buarque de Hollanda: dum lado o compositor-cantor de algumas obras-primas da música popular contemporânea, do outro o escritor de “Estorvo” e “Benjamim”, ficcionista só aparentemente tardio e, para muitos, desconcertante.
Nos anos 60, Chico Buarque conquistou o mundo com uma canção que ainda hoje permanece como referência da moderna música popular brasileira. Chamava-se “A Banda” e foi o primeiro passo rumo à fama daquele que veio a tornar-se numa das referências mais importantes do movimento de renovação da música do seu país. Durante a ditadura dos generais, tornou-se um nome maldito e, nos anos 70, viu-se mesmo obrigado a assinar algumas das suas músicas sob pseudónimo para fugir à censura férrea que o via como uma espécie de encarnação do demo.
Pelo caminho ficaram entretanto as primeiras experiências literárias do músico, em peças como “Gota d'Água”, “Roda Viva” e “Ópera do Malandro” ou numa pequena novela, “Fazenda Modelo”, após o que decidiu lançar-se numa obra de grande fôlego – “Estorvo”, o seu primeiro romance, editado em 1991 – experiência que repetiria quatro anos depois com “Benjamim”.
As duas entrevistas aqui utilizadas aconteceram em 1988 e em 1997, em Madrid e Lisboa, respectivamente. No primeiro caso, Chico tinha rompido um período de 14 anos sem realizar recitais (embora continuasse a tocar e a participar em espectáculos, como na Festa do “Avante!” de 1981) e preparava-se para actuar em Portugal, o que aconteceu alguns dias depois, num concerto memorável no Campo Pequeno. A segunda teve como pretexto o lançamento da edição portuguesa de “Benjamim”, e retrata esse outro lado do criador Chico Buarque: o contador de histórias.
«As minhas convicções mantêm-se as mesmas, sem dúvida nenhuma. Mas o meu papel, agora, é secundário em relação àquele que, quer eu quer outros artistas, desempenhámos durante a ditadura militar no Brasil. Nessa altura, cada espectáculo transformava‑se quase que num comício político...» Chico falava-me assim, em 88. Mas poderia ser hoje. No Brasil que já foi de militares (pouco) civilizados e que agora é de civis (bastante) militarizados, Chico canta, desde há quase três gerações, a liberdade proibida, os sentimentos clandestinos, os desejos secretos. Sem palavras de ordem, com palavras comuns. As menos fáceis, afinal, mas sempre as mais bonitas.
(Madrid, princípios de Maio de 1988. Estou com Chico Buarque no hall de um hotel da Gran Via, sete anos depois de o ter visto, em Lisboa, tímido e quase assustado no palco grande do Alto da Ajuda, como que surpreendido pelo coro de cem mil vozes que acompanhava as suas canções. Um Chico Buarque tão pleno de sinceridade que uma jovem adolescente perdida entre o público anónimo fez daquele espectáculo um marco da sua vida. A ponto de, vinte anos depois, já realizadora de cinema com currículo comprovado, fazer questão de o convidar para um filme, apenas porque sim*. O Chico Buarque que agora reencontro em Madrid é um homem descontraído, e que até já consegue dar dois passos de dança sobre o palco. A sinceridade dos gestos e das palavras, essa, continua a mesma.)
– Há treze anos que o Chico Buarque não faz um grande espectáculo só seu. Treze anos não é muito tempo?
– É, é muito tempo. E confesso que, quando resolvi voltar ao palco com este espectáculo mais profissional, tive algum medo. Mas também estava com necessidade de o fazer, sentia a falta do contacto directo com o público. Quando eu parei, em 75, depois do “show” com a Maria Bethânia no Canecão do Rio, foi também porque durante dez anos não tinha feito outra coisa senão andar de um lado para o outro, voando de cidade em cidade e fazendo espectáculos. Precisava de parar para “respirar” um pouco e, ao mesmo tempo, para pensar noutras coisas: trabalhei para cinema, para teatro fiz a “Ópera do Malandro”. E, afinal, nunca deixei de cantar. Só que era em outros espectáculos, com outros cantores, não era aquela forma “profissional” de actuar...
– O Chico dá muita importância ao dinheiro?
– Ao dinheiro? Eu quero dar-lhe a importância suficiente para não ter que pensar nele! [risos]. Mas não é por dinheiro que vou fazer mais uma série de “shows” como estou fazendo. Inclusivamente porque eu comecei a fazer este espectáculo sem muita ideia do que ira acontecer. Comecei por fazer duas semanas e foi perante o bom acolhimento do pessoal, pelo facto de me sentir bem no palco, que fiquei durante mais duas semanas. E, a partir dai, comecei a aceitar novos compromissos a estou disposto a aceitá‑los até Outubro. Este ano vou dedicar quase cem por cento do meu tempo aos espectáculos...
– O que contradiz um pouco a sua imagem tímida, de homem que não gosta do palco...
– Porque eu não sou, em primeiro lugar, um homem de palco. Mas estou-me sentindo bem no palco. Talvez porque me preparei bastante para isso, estou-me sentindo à vontade. Afinal, a maneira como o público está reagindo me ajuda muito. Na verdade, se eu não puder cantar mais, eles cantam por mim... [risos] Agora, ainda em relação à questão económica de que você falou, posso dizer‑lhe que, quando deixei de cantar, os meus discos passaram a se vender muito mais! O que significa que, através dos direitos autorais posso viver mais ou menos tranquilamente, não tenho, felizmente, esse tipo de preocupação. Mas também não é uma situação tão folgada que permita dar-me ao luxo de parar com tudo. Posso deixar de fazer “shows”, mas não posso parar de trabalhar.
– Segundo sei, nos seus espectáculos do Brasil houve uma grande participação do público bastante jovem, o que desfaz um pouco aquela ideia que poderá haver de que você canta para trintões e quarentões. Como é que foi a reacção desse público?
– Muito boa. Posso garantir-lhe que a maioria era efectivamente jovem, era gente que cresceu na época da ditadura e que, na maioria dos casos, nunca me tinha visto cantar. Principalmente nos espectáculos mais populares, em que não havia lugares sentados, a afluência de público era predominantemente jovem. Para mim foi uma surpresa, até porque eles não só estavam ali, como cantavam comigo algumas músicas que eu não sei de onde eles conhecem. As mais recentes porque tocam pouco na Rádio, e as mais antigas porque, em muitos casos, foram feitas antes de eles nascerem. Não sei com as conheciam, mas conheciam...
– Talvez porque o Chico Buarque represente, para a malta mais nova, uma parte da memória cultural dos seus próprios pais. Será?
– Talvez, não sei. Nesse caso foi uma transmissão de pai para filho, através da tradição oral...
– Como toda a música popular...
– Sim, como toda a música popular. Seja como for, fiquei muito satisfeito com essa participação mais jovem. Não que eu esteja preocupado com a idade de quem me vai ver. Por vezes, parece que existe uma espécie de “ditadura dos jovens”, uma imposição de um conceito de juventude que, afinal, não tem nada a ver com eles. É uma questão de consumo, em que tudo é dirigido aos jovens, só se fala dos jovens, como se não houvesse mais ninguém no mundo, quase como se fosse necessariamente mau não se ter 20 anos. No meu caso, os jovens também vão aos espectáculos. Mas se eu estivesse “condenado” a cantar para trintões e quarentões, seria uma “pena” que cumpriria com prazer. Assim, a presença dos jovens, para mim, é lucro.
– As suas filhas foram a motivação do tema “As Minhas Meninas”...
– Foram, em parte. Na verdade, eu fiz essa música para uma peça em que participava uma das minhas filhas. Mas é claro que eu me inspirei bastante nas minhas meninas...
– Você foi sempre um cantor intimista, mesmo nas canções de carácter mais vincadamente político. Mas acho que no “Francisco” há um Chico Buarque ainda mais pessoal, mais “interior”. Está de acordo?
– Sim, é possível. Não há canções explicitamente políticas, neste disco, até porque o momento actual da vida do Brasil não favorece esse tipo de música. Se bem que há canções ali com uma grande carga social, como nos casos de “Estação Derradeira”, de “Uma Menina” ou mesmo de “Bancarrota Blues”, com toda a ironia que ela tem. Mas eu acho que, como você diz, mesmo durante a ditadura nunca abandonei a linha lírica das minhas canções. E, nessa altura, a minha participação política era maior do que é hoje, por todos os motivos. Hoje em dia, o artista não desempenha o papel que desempenhava politicamente há dez anos. E mesmo assim, eu acho que esse intimismo meu está presente e predomina mesmo em qualquer disco, em qualquer época.
– Há alguns anos o Chico fez uma canção a meias com o Sérgio Godinho. Acha, que é possível repetir a experiência, com outros músicos portugueses?
– Sim, eu gostava. Mas esse caso, a minha colaboração com o Sérgio, foi uma excepção. Ele passou dois meses no Brasil, estivemos bastante tempo juntos. É isso que é preciso para haver uma parceria. Por correspondência é um pouco difícil... [risos]. Gostei muito de ter feito essa letra para ele, mas foi, de facto, um caso excepcional, precisamente por essa dificuldade que é a distância geográfica entre Portugal e o Brasil.
– Mas está ao corrente do que se está a fazer, em termos de música, em Portugal?
– Eu conheço mais ou menos o que conhecia na altura em que fiz essa canção com o Sérgio Godinho. Não tenho recebido nada de novo, a música portuguesa, como você sabe, não passa na Rádio do Brasil. Daí que eu desconheça a produção musical portuguesa mais recente. Lamento...
– O Chico foi um dos músicos que, em 1983, mandaram de Manágua uma mensagem ao José Afonso. Chegou a conhecê‑lo?
– Sim, conheci. Estive com o Zeca duas ou três vezes, nas minhas passagens por Portugal, pouco depois da revolução. Aliás, a partir do “Grândola, Vila Morena”, ele tornou‑se bastante popular no Brasil. Mas, depois, eu perdi o contacto com ele.
– Você acompanhou o 25 de Abril, fez até uma canção a propósito da revolução portuguesa. Algum tempo mais tarde, mandou‑nos um outro “recado” em que dizia que “a coisa estava preta” no Brasil. E agora, como é que está?
– Em termos de liberdade de expressão, a coisa já não está tão preta como estava. Noutros aspectos, essa canção continua bastante actual: a situação económica do Brasil está desastrosa e isso é, evidentemente, uma consequência dos 21 anos de ditadura. A corrupção desenfreada, o descrédito da classe política perante o povo, é uma situação absurda, mas fundamentada. É um absurdo em teoria, porque, afinal, a classe política foi eleita pelo povo para substituir o regime autoritário que nós tivemos. Não vejo perspectivas de mudança a médio prazo, a não ser aquilo que toda a gente quer: eleições directas, a todos os níveis. O que é preciso é mudar, de facto, a estrutura. Porque o que nós temos actualmente são os mesmos quadros, as mesmas classes dominantes. Sem farda ou com ela, são os mesmos homens, as mesmas caras, o mesmo discurso político.
– E as pessoas, como é que reagem?
– Há conflitos muito agudos, que nem sempre são muito divulgados. A questão da terra, por exemplo, que é fundamental: há conflitos grandes e violentos pela posse de terras, há gente que morre todos os dias. E isto é no campo. Na cidade, para onde há uma migração muito grande, a violência está presente como nunca esteve, em consequência do desemprego, do subemprego, das condições de miséria que se vivem. Há forças progressistas que estão lutando por uma reforma agrária digna e, por outro lado, na Constituinte, há forças reaccionárias muito conservadoras, de ultradireita, que estão cada vez com mais força, mostrando as garras, e nunca abrem mão dos seus privilégios. E isto é uma situação candente que, mais cedo ou mais tarde, tende a explodir, tanto no campo como na cidade.
(Quando, em 1991, veio a Portugal lançar o primeiro romance, Chico Buarque não escondia o «receio de que as pessoas comprassem o livro só pelo facto de me conhecerem como músico, embora não saiba muito bem se as coisas podem ser dissociáveis». Não podem, e porque assim é, o livro esgotou rapidamente, apesar de não ser propriamente literatura light, mas antes um romance escrito por alguém que «gostaria de ter mais certezas», como me disse na altura. Seis anos depois, em 1997, Chico Buarque regressou a Lisboa, assinalando a publicação em Portugal de “Benjamim”, o passo seguinte numa “carreira” literária que promete continuar no século XXI: a história do amor desesperado de Benjamim Zambraia que, perante um pelotão de fuzilamento, observa “o desenrolar cinematográfico do seu destino” num lapso temporal delirante.)
– Quem é, afinal, este Benjamim Zambraia?
– É um modelo publicitário aposentado, na casa dos 55 anos, que a partir do encontro fortuito com Ariela Masé – uma jovem que lhe faz lembrar uma grande paixão da sua vida – se apaixona e vai atrás dela. Ele convence-se de que essa jovem é a filha da sua antiga paixão, Castana Beatriz, uma mulher que foi morta na sequência da grande repressão política dos anos 60. Fica-se um pouco sem saber se é realmente a filha ou não. A partir daí desenrola-se o romance.
– Este é um livro onde há muitas situações que nunca são totalmente resolvidas: nunca sabemos se Ariela é realmente filha de Castana, os personagens nem sempre são o que aparentam ser, o sonho e a realidade misturam-se com frequência...
– Misturam, é verdade. E misturam-se também os pontos de vista do narrador. Ao contrário do “Estorvo”, este é um livro narrado na terceira pessoa. E na verdade a estrutura é um pouco mais complicada do que no livro anterior, porque o narrador assume um ponto de vista variável, conforme a situação. Pode ser o ponto de vista de Benjamim ou o ponto de vista da moça, pode ser o ponto de vista do marido ou de outro personagem. Quase como se cada um deles tomasse a narrativa para si. Como uma câmara que passasse de mão em mão...
– Aliás, o livro tem uma lógica narrativa um tanto cinematográfica...
– Tem. E é por isso eu penso que uma eventual adaptação para cinema do “Benjamim” não iria resultar. Ou então resultaria numa repetição do próprio livro. Creio que, se quisesse ser fiel à história, o realizador dificilmente conseguiria dizer algo de novo.
– Ao longo de toda a história há uma série de episódios em que o leitor é induzido em erro, através de situações que não são aquilo que parecem ser a princípio. Estou a lembrar-me da cena em que Ariela marca encontro com um homem num apartamento: parece tratar-se de um negócio sexual, antes de se saber que ela é agente imobiliária e ele apenas um potencial comprador...
– É aquilo a que os franceses chamam o “trompe d'œil”. Isso existe no livro inteiro, essa situação quase de trocadilho visual, e foi naturalmente deliberado. E não são apenas os leitores que são “enganados”: os próprios personagens são várias vezes induzidos em erro. É uma forma de tentar envolver o leitor nessa rede de equívocos...
– Como é que nasceu a ideia para este romance?
– Isto nasceu mais ou menos seguindo o mesmo processo do “Estorvo”, a partir de um simples exercício. Eu estava disposto a escrever um novo livro, mas não sabia que história, não tinha um tema específico...
– Não houve uma planificação?
– Houve, a partir de um certo momento. O primeiro impluso surgiu depois de uma série de exercícios de linguagem que impus a mim próprio: vamos lá escrever isto, fazer esta ou aquela cena. Exercício mesmo, quase como se fossem redacções encomendadas por alguma professora. E a partir de determinado momento uma situação começou a crescer, os personagens começaram a se desenhar e aí eu parei e “cacei” um roteiro do livro. Foi uma coisa mais ou menos decidida. Volta e meia chegava a impasses, aconteceu várias vezes...
– É frequente ouvirmos escritores dizerem que por vezes deixam de “ter mão” nos seus personagens. Alguma vez aconteceu que um deles fugisse ao seu controlo e não seguisse o rumo que inicialmente você queria dar-lhe?
– Claro que os personagens ganham uma vida própria, uma maneira de existir. O que acontece muitas vezes – e já acontecia no “Estorvo”, o processo foi parecido – é o caminho traçado para um personagem ser desviado por necessidades de linguagem. Na verdade, foram coisas determinadas pelas palavras, o trabalho com as palavras. Vários impasses surgiram assim: eu tinha um rumo para um personagem, mas não conseguia exprimir aquilo. Eu ia por outro caminho porque as palavras pediam outro roteiro, outra solução para uma determinada cena. A linguagem conduziu a narrativa, muitas vezes. Eu escrevia uma cena conforme estava previsto, mas soava a falso. Não porque, psicologicamente, o personagem não conseguisse agir daquela forma, mas porque, na minha narrativa, não queria escrever aquilo. As minhas palavras queriam escrever outra coisa. Isso aconteceu várias vezes.
– Há uma relação quase óbvia (e que já vi referida em diversos sítios) entre o início da narrativa de “Benjamim” e o princípio dos “Cem Anos de Solidão”: é a cena do fuzilamento, dando a ideia de um “flashback” – que, no seu caso, acaba por não o ser. Essa referência subliminar ao livro de García Márquez foi propositada ou nem sequer pensou nisso?
– Não, não pensei. Eu acho que esse entendimento, que aliás foi o de muita gente, é na verdade um mal-entendido. E provavelmente tem a ver com a repetição de uma circunstância, no episódio que inicia a história, que é semelhante a vários livros. E a vários filmes. Eu me lembro de um filme russo, “Quando Voam as Cegonhas”, que tem um pouco disso: uma câmara andando em volta, um sujeito a cair. Lembro-me vagamente de uma copa de árvore que girava. E tinha essa coisa da revisão da vida, o tal “flashback”. É uma situação que existe em muitas histórias. E o que é dito pelo Benjamim, nesse primeiro parágrafo, é que como ele já esperava, a sua vida lhe passou em frente, no momento da morte. Literariamente, não é novidade nenhuma, evidentemente. Mas eu penso que, talvez por culpa minha, há aí um mal entendido – e muitas vezes posso ter falhado por não querer ser mais explícito. É que, terminado o primeiro parágrafo, não se passa para um “flashback” da vida de ninguém. É simplesmente um sonho premonitório...
– ...que se concretiza no final do livro, onde aliás você utilizou as mesmas palavras do princípio.
– Exactamente. É um sonho premonitório. Terminado o primeiro parágrafo, começa a narrativa do sujeito que sonhou aquilo, na noite anterior. Mas eu verifico que muitas pessoas, quase automaticamente, são levadas a crer que, a partir do segundo parágrafo, começa o “flashback”. Não foi a minha intenção, até porque eu acho que já há muita literatura que utiliza esse recurso. Eu não pretendi ser inédito nessa abertura do livro e por isso mesmo digo que “naquele instante Benjamim assistiu ao que já esperava”. Mas talvez tenha falhado, porque essa confusão é recorrente de isso geralmente acontecer assim, o que leva toda a gente a pensar que, a partir daí, o sujeito começa a rever a sua vida. Não é o que acontece aqui. Nem poderia ser, porque se alguém está a lembrar a sua vida, o ponto de vista da narrativa tem que ser só o dele e não o daquela espécie de câmara que segue os personagens. Como quando, no primeiro capítulo, a moça abandona o restaurante: a “câmara”, que até então estava com Benjamim, segue com ela...
– Quem conhece o Rio de Janeiro fica com a sensação de que toda a acção do livro se passa ali, embora o nome da cidade nunca seja referido. É assim?
– É. Mas é um Rio de Janeiro virtual. O Rio nunca é nomeado porque não pretendi assumir um compromisso com a realidade da cidade. E também fica, no plano um pouco onírico, naquela dimensão entre o sonho e a realidade, como fica o livro todo. Por exemplo: os nomes próprios dos personagens, das ruas, são nomes que, num primeiro momento, você acredita que possam existir. Pelo menos a minha intenção foi essa, fazer com que as pessoas pensassem duas vezes antes de concluir se é ou não possível isso existir. Uma pessoa que se chama Aliandro, um lugar que é o Largo do Elefante, tudo isso foi escrito para manter o tal ambiente onírico. Nesta história não fazia sentido falar na Avenida de Copacabana, por exemplo, ainda que ela lá esteja, de certa forma.
– Houve uma intenção deliberada de fugir a um tom realista?
– Sim. Este não é um livro realista, em momento nenhum. E também por isso tomei essa opção relativamente aos nomes e aos lugares. Se eu nomeasse o Rio, logo aí estabelecia um compromisso com o realismo. E isso eu não quis, desde o início.
– Apesar disso, parece-me que a realidade histórica brasileira, digamos assim, está muito presente neste livro. Há referências, ainda que indirectas, ao golpe de 64, à repressão...
– É verdade. O pano de fundo é real. Se não, o livro “flutuava” inteiramente, seria outra coisa. Até o facto de o Rio ser sugerido faz parte desse estratagema. Existe uma coisa real, tal como nos nomes que num primeiro momento parecem possíveis. Procurei não meter nomes muito caricaturais, “à la Cervantes”, que dessem a ideia de um romance pícaro, de modo a deixar o leitor nesse “pântano”, sem saber se está em terra ou se está no mar. E tudo isso é sustentado por uma série de episódios históricos nossos, brasileiros, existe toda uma cronologia de dados que passa pela luta armada, pela repressão pós-68, pelo movimento hippie, até chegar aos dias de hoje. Mesmo em relação aos próprios lugares: a dada altura há uma referência a uma importadora de carros que tem a ver com o que eu vejo na Barra da Tijuca, aquelas pessoas, o Brasil moderno. Você não esteve no Rio recentemente, mas se for lá agora vai encontrar um pedaço de cidade tremendamente novo. Em São Paulo também existe isso...
– A propósito: como é que você, que conheceu bem várias fases da vida do seu país, encara o Brasil actual? As mudanças políticas corresponderam às expectativas?
– Que mudanças? Não, não há grandes mudanças...
– Pelo menos pode-se falar. Ou não?
– É... Mas mudanças, mudanças estruturais, não houve. O governo que lá está anuncia um Brasil novo, anuncia a intenção de promover mudanças. Mas, pelo menos até agora, elas não são visíveis. O Brasil está crescendo e à medida que cresce deixa ver uma riqueza muito grande, muito aparente, muito ostensiva. E muito sem culpa em relação a alguns anos atrás. Muito despudorada. E também deixa ver uma enorme miséria.
– Sendo um brasileiro viajado e que, de alguma forma, é como que um “embaixador cultural” do seu país, como é que se sente perante todas as notícias terríveis, de massacres e corrupções, que volta e meia o Brasil transmite ao mundo?
– Eu sou mais um “anti-embaixador” do Brasil. [risos] E penso que ninguém me identifica com o Brasil oficial. Mesmo que não seja propriamente um militante político (até já fui mais identificado com a oposição do que sou hoje) de forma alguma sou confundido com algo que lembre esse Brasil. Uma vez, em Oslo, quando estava lançando o “Estorvo” na Noruega, surgiu um convite para jantar na embaixada brasileira. Isso foi pouco depois da queda de Fernando Collor, o presidente na época era o Itamar Franco. E o editor perguntou se eu iria, eu disse que sim, se fui convidado vou, para mais não tinha nada que fazer nessa noite. E ele disse: “É que eu imaginei que você estivesse já cansado, em todo o lugar deve ter que ir a casa do embaixador.” E eu respondi: “Não, é a primeira vez. Em trinta e poucos anos de vida pública e viagens constantes, é a primeira vez que sou convidado para uma recepção numa embaixada do Brasil.” Não sou, nunca fui, uma pessoa benquista pelo governo brasileiro.
– Nem mesmo agora?
– Nem mesmo agora. No caso actual do governo de Fernando Henrique Cardoso, às vezes eu até lastimo, porque tive com ele uma relação pessoal de amizade. Ele era amigo do meu pai e eu o apoiei desde o início, quando ele foi candidato ao Senado, no final dos anos 70. Escrevi um “jingle”, no tempo em que essas coisas eram coisas de amadores, para a campanha dele para senador. Fui um dos artistas que mais o apoiaram na campanha para a prefeitura de São Paulo, em 85. Mas, assim que ele se tornou presidente da República, passei a me sentir tratado como “não pessoa”. E não fui eu que escolhi isso. Mas, de alguma forma, acho que estou numa boa posição. Eles me colocaram numa posição bem menos incómoda do que se estivesse de boas relações com o governo. Além de que essa conversa de poder não me interessa muito...
– Você é um tipo com muitas dúvidas?
– Sem dúvida. [risos] Sou, sou uma pessoa cheia de dúvidas. E sou uma pessoa que exprime essas dúvidas. Tento sempre colocar a variedade de possibilidades: pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, pode ser assim, pode não ser.
– Parece-me que essa “dúvida metódica” está também muito presente em “Benjamim”...
– Está. Não há certeza alguma neste livro. Os personagens não têm a certeza de nada, ninguém é dono da verdade...
– E nenhum dos personagens é naturalmente bom ou naturalmente mau...
– É verdade. E repare: você leu o livro uma vez, ficou com uma ideia das coisas. Mas eu tenho a certeza de que ninguém o vai ler tantas vezes e com a mesma atenção com que eu o li. Eu costumo dizer que não gosto de escrever, gosto é de ler. Escrevi para ler. E então há todo um envolvimento do personagem central, o Benjamim, quando ele se lembra (e lembra-se por duas vezes) a maneira como precipitou e, de certa forma, provocou o assassinato da mulher que ele amava. Pode ter sido por ingenuidade, ou por uma paixão irresistível, ou até por ciúmes. Ele pode ter desejado que ela morresse. Há essas três leituras possíveis. Eu acredito mais até na terceira hipótese porque o sentimento de culpa dele é muito forte. Mas também pode ter sido uma mistura dessas três coisas: ele queria revê-la, mas sabia que estava conduzindo os futuros assassinos dela ao local do crime. Ou se calhar não sabia...
– Essa noção da culpa é um sentimento que tem muito a ver com a nossa cultura judaico-cristã e que, frequentemente, se transforma numa coisa terrível. Você também se debate com esse problema, no seu quotidiano?
– Sim, claro. Nós nascemos com isso e temos de viver com isso justamente por causa dessa nossa formação cultural. Mas no caso de Benjamim é diferente: a culpa dele é uma culpa concreta, tem a ver com uma situação a que ele deu origem.
– Recentemente li uma entrevista que o Chico deu a um jornal brasileiro e em que dizia mais ou menos isto: “Não faço questão de que me chamem escritor”. Não faz mesmo?
– Isso foi uma reacção minha a um certo tipo de comentários que se fazem no Brasil. Até por parte de escritores, que não admitem a minha entrada na literatura, como se aquilo fosse um clube fechado. Ora eu não faço questão de entrar nesse clube. Inclusive, no rol das minhas admirações há muitos mais músicos e autores de música popular do que escritores verdadeiros. Então, se eles me exigem algum tipo de crachá, eu não faço a menor questão que eles me considerem um colega. Não querem, estejam à vontade. Agora a verdade é que sou um escritor, sim. Do outro clube, sem cartão. [risos]
– Este segundo romance é uma forma de você reforçar essa ideia, de se afirmar enquanto escritor?
– Claro que há sempre a necessidade de escrever um segundo livro. Porque, quando se tem apenas um, por bom que seja, pode ser uma coisa acidental, um momento súbito de inspiração. Um segundo livro confirma, ou não, um estilo, uma linha. Dois pontos traçam uma recta, não é? Um terceiro livro há-de confirmar um plano...
– E já existem ideias para esse terceiro livro?
– Ainda não. Mas hão-de vir.
– Pelo que você diz, dá a impressão de que os escritores brasileiros não reagiram lá muito bem aos seus livros...
– Não é bem isso. Quando falo de escritores estou a referir-me a um ou outro. Tenho alguns amigos escritores que me deram o maior apoio. É o caso do Rubem Fonseca que desde o princípio me dizia: “Você é um escritor.” E mais uns tantos. Agora, não ganhei amigos no meio literário depois de ter escrito o primeiro ou o segundo livro. Eu mantive os que tinha, se é que os mantive todos... O meu mundo continuou a ser o da música popular. Os meus amigos, a grande maioria dos meus amigos, continuam a ser pessoas que fazem música. O meio musical me parece mais arejado do que o meio literário. Isso se explica por uma série de frustrações. As pessoas que mexem com literatura, no Brasil, normalmente se sentem injustiçadas – e com carradas de razão: sentem-se mal remuneradas, sobretudo em comparação com um músico popular de sucesso. Mas às vezes deixam passar um certo ressentimento que não me parece saudável...
– Em Portugal também há quem considere as canções como uma arte necessariamente menor, em relação à poesia...
– Isso acontece no Brasil, também. É a velha questão de saber até que ponto uma letra pode ou não ser entendida como poesia...
– Pessoalmente, se me permite emitir uma opinião entre parêntesis, considero o Chico como um dos grandes poetas de língua portuguesa. E digo o mesmo de José Afonso, por exemplo. Mas ainda há um certo pudor em considerar-se poeta um autor de canções...
– Pois. E, pelo mesmo motivo que eu referi antes, eu também não quero ser poeta, é outro “clube” a que não faço questão de pertencer. Eu sou letrista. Aliás eu faço as canções sempre a partir da música, não tenho uma independência literária nos meus textos musicais, nas letras que faço. São letras compostas para músicas, no caso das parcerias, ou com as músicas, quando faço as duas coisas. Nunca escrevo um texto antes de fazer uma música. Agora, eu sei que as minhas letras têm uma qualidade poética superior à de muita poesia que se faz. Mas não é comparável. Fazer a letra para uma música é um ofício muito diferente do do poeta, é outra coisa. Só que eu não acho que se deva estabelecer uma hierarquia entre a letra e a poesia, uma não tem que ser superior à outra. Se eu não escrevo poesia, não é porque não queira. Não escrevo porque não sei, não é o meu ofício. Mas um poeta provavelmente também não saberia escrever letras para música.
– Há alguns casos em que as duas vertentes se misturam. Lembro-me de Vinícius de Moraes, por exemplo...
– Claro. Mas o Vinícius é uma excepção. São muito poucos os poetas que conseguem escrever para canções. O que geralmente acontece é que há canções feitas a partir de poemas.
– O Chico nunca teve a tentação de escrever poesia?
– Não, nunca. Quando me ocorre escrever sem música, escrevo prosa.
– Em todo o caso, a sua prosa parece-me muito influenciada pela música, sobretudo no ritmo da narrativa. Em “Estorvo” havia uma “batida” específica, talvez mais acelerada do que a de “Benjamim”, mas em ambos os casos há um ritmo próprio. Até que ponto é que o seu método de composição musical interfere no processo de criação literária?
– Penso que há uma interferência directa. Tenho a certeza de que, tanto o “Benjamim” como o “Estorvo”, são livros de um músico. O que eu separo sempre é a literatura que há na minha música da literatura dos meus romances. Mas é verdade que eu devo muito à música. E não só à minha música, mas ao meu conhecimento musical, ao meu ouvido de músico. A grande influência, a “influência magnetável” sobre a minha literatura, para mim é a da música. Depois há o cinema, haverá a televisão, a publicidade, as bandas animadas – e até mesmo a literatura.
– Que autores o influenciaram mais?
– Os autores literários que me influenciaram mais? Isso perde-se um pouco na poeira do tempo. Isto não é sequer uma graça que estou a fazer pelo facto de ser músico. Eu acho que o peso da literatura na formação da minha geração é muito menor do que nas gerações anteriores. O que é lógico: há cem anos atrás não se fazia outra coisa senão ler, as pessoas não tinham outra forma de se cultivarem. E da mesma forma pode ser que, amanhã, a literatura seja feita por pessoas que não leram quase nada, mas que sentem necessidade de escrever. Pessoas que vêem televisão o dia inteiro, ou que estão todo o tempo em frente do computador. Ou pessoas que lêem e escrevem romances via internet, sem nenhuma formação literária. Pode ser que o peso dos clássicos desapareça cada vez mais. Mas não vou recusar aquilo que li. Li bastante literatura brasileira, li alguns franceses, alguns russos. Provavelmente tudo isso está nos meus livros.
– Quando saiu o “Estorvo”, houve, aliás, quem falasse de influências de Kafka...
– De Kafka, Dostoievsky, Camus. São tudo autores que eu realmente li muito. Mas também falaram de semelhanças com outros escritores que nunca li. Embora admita que, indirectamente, os possa ter assimilado, talvez através do cinema, sei lá...
– E há certamente a influência familiar, sobretudo do seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Hollanda, cuja prosa, de resto, era particularmente admirada por gente tão ilustre como o poeta Manuel Bandeira...
– Sem dúvida que sim. Aliás, durante a minha juventude, antes de querer ser músico, eu queria mesmo era ser escritor. E o meu pai foi o primeiro crítico dessas minhas tentativas juvenis. Dizia-me frequentemente que eu precisava de aperfeiçoar as coisas, ler mais...
– Actualmente há um certo pessimismo relativamente à formação cultural das novas gerações. Você que é pai – e agora também avô...
– É verdade, já sou avô. Avô de um Chiquinho.
– ... como é que encara o futuro, culturalmente falando? Acha que estaremos a caminho daquele cenário, descrito por Ray Bradbury em “Fahrenheit 451” e magnificamente ilustrado em filme por François Truffaut, em que os livros se tornam objectos proibidos?
– Por natureza, eu não sou um pessimista. Eu tendo sempre a me interessar, a ser um curioso, a ver possibilidades novas. Não sou um saudosista, nem sou nostálgico. Então, que alguém possa vir a escrever um bom livro sem jamais ter lido, eu acho interessantíssimo, parece-me uma possibilidade formidável. Vai ser triste em termos práticos, porque se alguém conseguir escrever um livro sem nunca ter lido, provavelmente nunca será lido também. Mas não deixa de ser engraçado. E aí, talvez as pessoas escrevam para não serem lidas. Eu não escrevo para ser lido, escrevo para eu próprio ler, como disse antes. O problema, nessa altura, pode ser como é que um escritor vai conseguir viver de direitos autorais. É mais uma questão de ordem prática. Mas como já hoje pouquíssimas pessoas vivem da literatura, não vai mudar grande coisa. Eu, por exemplo, não vivo da literatura porque tenho um compositor que me patrocina. O meu “sponsor” é um um sujeito chamado Chico Buarque...
– Sorte sua...
– Muita gente argumenta que eu não posso ser escritor, pelo facto de ser compositor. Mas a verdade é que, como digo, são raríssimos os casos de um escritor que viva exclusivamente da literatura. Uns são jornalistas, outros são médicos, outros ainda são funcionários públicos, ou diplomatas, ou arquitectos. E alguns podem ser músicos, também. Alguma outra ocupação os escritores têm que ter. A não ser que sejam um Jorge Amado ou um Paulo Coelho, escritores de “best-sellers”. Talvez nos Estados Unidos ou na Alemanha possa existir esse estatuto de escritor profissional, mas de resto creio que é muito difícil. Já no passado um escritor era, normalmente, uma pessoa de posses.
– Ou então tinha um duque ou uma marquesa que o punha por conta...
– Claro, podia ter um Mecenas que o sustentasse. Evidentemente que casos como o de Sthendal, que passava longas temporadas em Itália, escrevendo, precisavam de meios para poder fazê-lo. E ele não escrevia sequer para a CNN ou para a TV Globo. Tal como Flaubert, durante todo o tempo em que escreveu “Madame Bovary”, morava em casa da mãe, tinha a subsistência mínima garantida.
– Por outro lado, um escritor profissional pode ser obrigado, pelas circunstâncias, a escrever coisas que não quer.
– Claro. E esses também existem no Brasil. Pessoas que têm por ofício escrever, que vivem da tarefa de escrever. Agora, fazer isso e ser um grande escritor é que é mais complicado. Lembro-me do caso de um escritor brasileiro, Fernando Veríssimo, que escreve todos os dias uma coluna no “Jornal do Brasil”, e apesar disso é um escritor de primeira qualidade.
– E houve casos como o de Camilo Castelo Branco, também...
– Por exemplo. Agora, é claro que existe sempre o perigo de o sujeito se acomodar e tornar-se num “escriba” em vez de um escritor. Alguém que escreve necrológicos para a televisão ou todo o tipo de escrita de encomenda. E isso eu acho que já é mau.
– Você é um tipo disciplinado, quando escreve? Que tipo de regras é que impôs a si mesmo, ao fazer o “Benjamim”?
– A única obrigação que eu estabeleço para mim mesmo, como escritor, é não fazer outra coisa enquanto estou escrevendo. Passei catorze meses escrevendo e reescrevendo o “Benjamim”, fazendo dezenas de versões de cada parágrafo, até chegar àquele ponto em que pude dizer: “Acabou, está pronto!” Mas não sou do tipo de escrever diariamente por obrigação. Faço-o se sentir necessidade.
– E agora, Chico?
– Agora vou até Paris, onde este livro vai ser lançado, também. E depois volto para o Rio, onde tenciono descansar uns tempos. Depois farei um novo disco, com músicas originais. O resto, logo se verá...
In Bocas de Cena | Ed. Campo das Letras, Porto, 2003